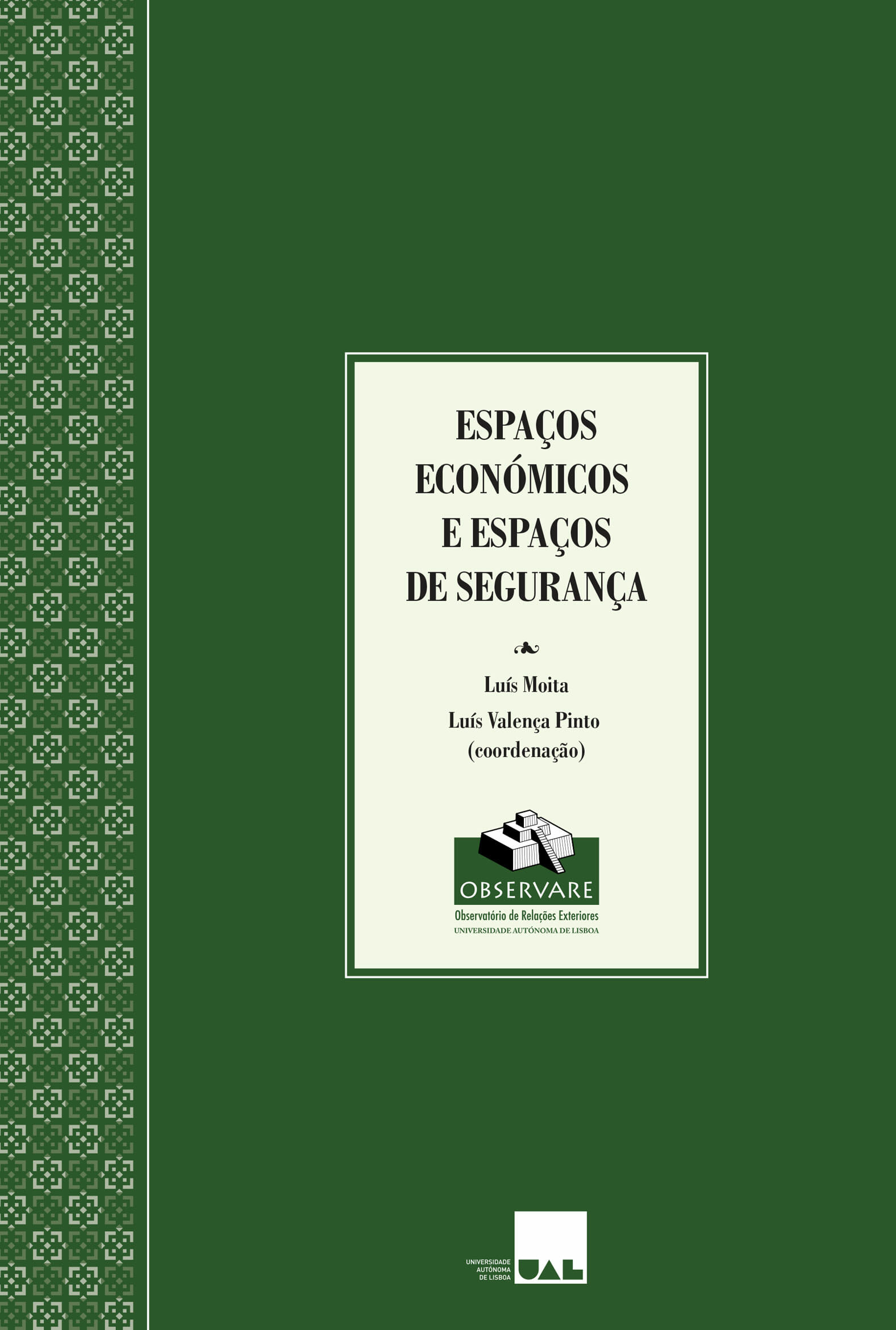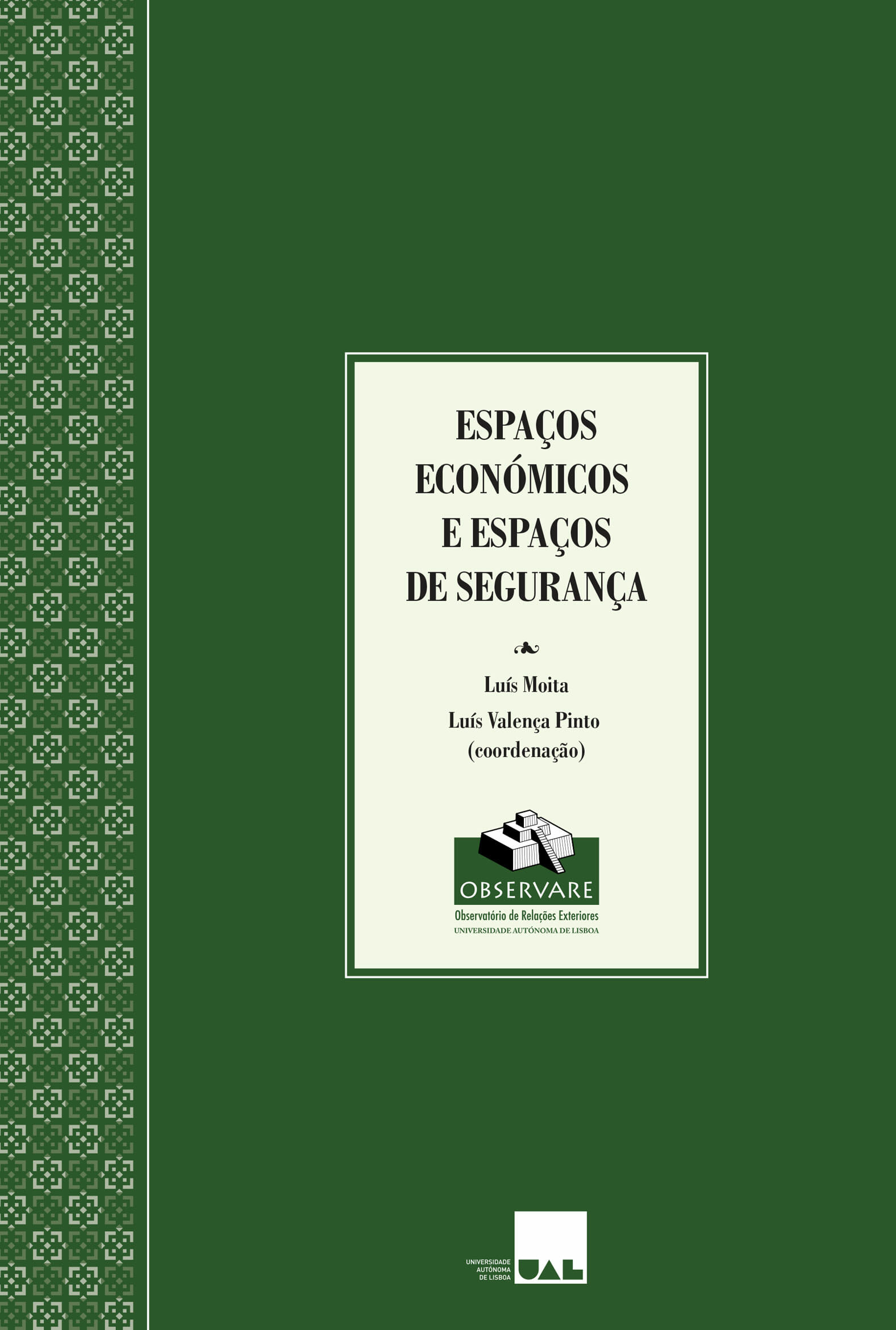Se a pirataria marítima prolifera ao largo da Somália, a quem compete garantir a segurança das rotas? Se o desmatamento da Amazónia põe em causa equilíbrios ecológicos globais, quem tem autoridade para lhe pôr cobro? Se o conflito na Ucrânia alastra ao ponto de comprometer o fornecimento de gás natural à Europa do Leste, quem estaria em condições de o impedir? Perguntas como estas têm um pressuposto razoavelmente evidente: o normal funcionamento das actividades sociais e económicas é suportado por garantias de segurança. Todavia, sobre quem recai a responsabilidade? Durante um largo período do passado ainda recente a resposta teria contornos bastante simples: são os Estados nacionais, dotados de meios de coerção, que protegem o mercado interno e o sistema de trocas com o exterior, garantindo a integridade física do espaço delimitado pelas fronteiras terrestres e marítimas. Ou então, numa fase histórica bem conhecida, o condomínio mundial das superpotências levou a que, no hemisfério norte, dois grandes dispositivos militares garantissem a segurança dos respectivos espaços: o Pacto de Varsóvia para o campo do chamado socialismo real, a Organização do Tratado do Atlântico Norte para o campo da chamada economia de mercado. Na actualidade, ambos estes cenários – o dos espaços nacionais e o dos blocos – estão fragilizados ou mesmo despareceram, deixando em aberto um grande número de incertezas. Em tempos de fronteiras voláteis, de regionalização interestatal e de processos globalizadores nem sempre é claro se são necessários sistemas de segurança colectiva ou, achando-se necessários, como os organizar, como não é claro quais os agentes e quais os instrumentos dotados de condições para assegurar a base sólida onde assentem as dinâmicas sociais e o funcionamento dos mercados. Daí a equação que resume tais incertezas: espaços económicos e espaços de segurança.
Tipo: Livros
Categoria: Ciência Política
Autor: Luís Moita e Luís Valença Pinto
Data de Lançamento: 06/30/2021
Documento PDF:  espacos_economicos_e_espacos_de_seguranca.pdf
espacos_economicos_e_espacos_de_seguranca.pdf
Capa: